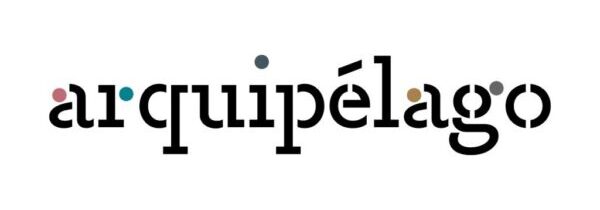Antígona na Amazônia. Montagem de Milo Rau. KAy Sara na tela e Frederico Araujo no palco. Foto Kurt van der Elst-NTGent / Divulgação

Pablo Casella ao violão e Frederico Araujo no chão do palco; na tela, Gracinha Donato, Frederico Araujo, Coro e Celia Maracajá. Foto Cristophe Raynaud de Lage / Divulgação
 Antigone in the Amazon (Antígona na Amazônia), do diretor suíço Milo Rau, escancara para o mundo a violência extrema praticada contra as populações indígenas, trabalhadoras e trabalhadores rurais que lutam pelo seu direito à terra no Pará, e no Brasil. A peça reforça, da perspectiva de quem pensa o presente-futuro do planeta, a urgência de ações contra a desflorestação desse “pulmão do mundo”, onde o capitalismo devora a natureza. Ou como pontuou a atriz e ativista Maria Raimunda, numa conversa no Festival d’Avignon, as forças conservadoras matam gente, rio, animais, árvores, floresta, com a mesma crueldade.
Antigone in the Amazon (Antígona na Amazônia), do diretor suíço Milo Rau, escancara para o mundo a violência extrema praticada contra as populações indígenas, trabalhadoras e trabalhadores rurais que lutam pelo seu direito à terra no Pará, e no Brasil. A peça reforça, da perspectiva de quem pensa o presente-futuro do planeta, a urgência de ações contra a desflorestação desse “pulmão do mundo”, onde o capitalismo devora a natureza. Ou como pontuou a atriz e ativista Maria Raimunda, numa conversa no Festival d’Avignon, as forças conservadoras matam gente, rio, animais, árvores, floresta, com a mesma crueldade.
Para falar dessa situação brasileira (e é bom que se pontue, ferozmente agravada nos quatro anos do desgoverno Bolsonaro [2018-2022], o pior presidente que o Brasil já teve), Antígona na Amazônia cruza a ficção da tragédia de Sófocles Antígona com o real do episódio sangrento do Massacre do Eldorado dos Carajás (ocorrido em 1996), a resistência exemplar do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra, que reúne cerca de 500 mil militantes), a atuação de ativistas indígenas e negros e a questão amazônica com suas implicações. O quadro cênico é impactante, ambicioso e emocionante.
Essa releitura de Antígona se dispõe em resistência, reverberando vozes e fatos. Se faz teatro de carne, sangue, ossos, coração porque adota o ponto de vista da militância, da sabedoria amazônica, da trajetória de lutas. A causa dos trabalhares rurais, dos sufocados pelo capitalismo selvagem ganham o primeiro plano. Com isso, Milo Rau afasta a possibilidade de se projetar como figura do salvador branco, como pareceu pender em outras montagens.

Coro inclui sobreviventes da chacina (de chapéu, à esquerda Maria Zelzuita que faz um relato comovente na parte gravada da peça) e integrantes do MST de todo o Brasil. Foto Philipp Lichterbeck / NTGent / Divulgação
Foi o MST que fez a proposta do trabalho cênico a Milo Rau em 2019, quando ele esteve no Brasil. Talvez pela trajetória do encenador, do ativismo no teatro, de encarar temas complexos, provocantes ou explosivos. Juntos escolheram conectar Antígona com a chacina de Eldorado dos Carajás. Rau tendo no horizonte um princípio do Manifesto Gent, redigido por ele em 2018, de não apenas imaginar o mundo, mas de mudar esse mundo. Os trabalhadores, os indígenas, carregando no corpo o combate de invasões e colonizações.
Produção de despedida de Rau à frente NTGent, pois ele agora passa a ocupar em Viena a função de diretor artístico do Wiener Festwochen, Antígona na Amazônia estreou em 13 de maio de 2023, no Teatro NTGent, na cidade de Gante [Gent, em holandês], na região de Flandres, a parte da Bélgica que fala holandês. A montagem foi aplaudida efusivamente no Festival d’Avignon e tem apresentações agendadas em vários países europeus até pelo menos junho de 2024. A previsão inicial era de estrear em 2020, mas o mundo parou com a pandemia da Covid 19. E todos nós sabemos bem o que se passou.
O espetáculo fecha a Trilogia dos Mitos Antigos, de Rau, formada por Orestes em Mossul, de 2019 (uma adaptação de fragmentos da Oresteia, de Ésquilo, produzida e filmada no Iraque arrasado pela guerra); e O Novo Evangelho, um filme de 2020, inspirado na vida de Jesus, tendo entre os participantes refugiados de um acampamento na Itália.
Milo tem no currículo a releitura de eventos reais levados ao palco, como fez também com Grief and beauty (Deuil et beauté / Luto e beleza; 2021) e Familie (2020) [nossa crítica das peças] trabalhos em que utiliza como procedimento o relato do processo criativo, filmagens e a convocação para refletir sobre questões controversas.
Os brasileiros Pablo Casella e Frederico Araujo e dois integrantes do Teatro NTGent, da Bélgica, Sara De Bosschere e Arne De Tremerie se ocupam de todos os papeis na cena presencial. O elenco já está no palco quando nós, do público, entramos para Antígona na Amazônia. O músico/ator Casella toca violão. Os três intérpretes estão sentados ou mexem em qualquer coisa. Tem um cabide de roupa de um lado e instrumentos musicais do outro. Os telões não ficam expostos o tempo todo, como em outras peças de Milo Rau, eles são acionados em alguns momentos para exibição do material gravado.
O quarteto enfatiza no prólogo, – e explica em intervalos regulares -, a importância da luta política do MST, o ativismo e a resistência da população indígena do Brasil, o sistema artístico da montagem e traça vínculos com a vida de cada um etc. O palco das apresentações está coberto de terra avermelhada.
O teatro de Milo busca juntar arte e ativismo. Em Antígona na Amazônia recebemos junto com o programa a Declaração de 13 de Maio, um manifesto contra a destruição da floresta amazônica e a “lavagem verde neoliberal”. Seus principais pontos são a auditoria imediata dos selos (“rotulagem fraudulenta que perpetua a ficção neoliberal de uma produção industrial ‘sustentável”); o boicote contra todas as empresas envolvidas (a exemplo da Ferrero, Nestlé, Danone, Unilever, cujos produtos estão impregnados por “violações dos direitos humanos, roubo de terras e destruição do mundo vivo/da natureza na América Latina, mas também na Ásia ou na África”, sendo a Agropalma e seus clientes “os exemplos mais cínicos de um sistema global”); defesa incondicional de uma agricultura independente e a mudança radical do sistema. Aqui link com acesso ao PDF para download de versões da declaração em Inglês, francês, holandês, alemão e português
“O caso de um conglomerado brasileiro de óleo de palma – a Agropalma – mostra, de forma drástica, como funciona o sistema da destruição, da supressão de direitos e da exploração. Já há anos, a Agropalma vem sendo acusada de roubo de terras (grilagem), violação de direitos humanos e de condições de trabalho ruins por pessoas que vivem nas suas áreas de cultivo. Tribunais brasileiros já revogaram mais da metade de títulos de propriedade da Agropalma em virtude de comércio ilegal de terras e estelionato.
Mesmo assim, a Agropalma, até hoje, tem certificação atestada por mais de dez selos internacionais. Dentre os clientes do óleo de palma que ela vende, estão dezenas de conglomerados alimentícios como a Ferrero, a Danone e a Nestlé. Da petição de “Salve a Selva” sobre a enganação dos selos no caso da Agropalma ”Amazônia: Grilagem e violência por causa de óleo de palma orgânico, com comércio justo e sustentável“ já estão participaram mais de 75.000 pessoas.”
Com Antígona na Amazônia várias ações já foram iniciadas. São células que amplificam esse teatro e esse ativismo político. Veja o vídeo O amanhã não está à venda.
“Um grito de vingança e salvação: é o que os ativistas de arte da ‘Declaração de 13 de maio’ chamam de sua música entre agitprop, batidas latinas e hip-hop de protesto. A primeira canção dos artistas, unindo músicos e cidadãos da América Latina e da Europa, é um apelo à resistência contra o greenwashing e o desmatamento – uma luta alegre pelo futuro de todos nós! Vamos resistir contra o cinismo sangrento e as doces mentiras das grandes empresas de alimentos: Destrua o que te destrói!”
“O amanhã não está à venda”
O clima de resistência já está instalado no lobby do teatro, com banners com frases-convocação para a luta e imagens da montagem. Esse material exposto na antessala funciona como ativador de emoções.
O espetáculo lança as pontes entre a tragédia antiga e a luta dos trabalhadores. No início da encenação um ator faz analogias entre a guerra civil em Antígona e o que acontece como guerra civil no Brasil. A desobediência civil da protagonista de Sófocles é vinculada à campanha de ocupação do MST e os dados de um passado recente do país são misturados com as experiências pessoais dos atores contadas no palco. Bem, já disse que os artista falam de si, mas é para pontuar o movimento de repetição.
Na tragédia de Sófocles, Polinices e Etéocles, (irmãos de Antígona e Ismene, os quatro filhos de Édipo, rei de Tebas), se matam literalmente pelo poder. Creonte, tio do quarteto – irmão de Jocasta, esposa-mãe de Édipo – toma para si o poder, e com sua autoridade baixa uma ordem para ninguém sepultar o corpo de Polinices, enquanto dá honrarias fúnebres ao outro. Antígona não aceita o que entende por arbitrariedade e desrespeito às leis divinas, e se insurge contra a determinação, mesmo sob a ameaça de morte.
Antígona vibra em resistência. A violência em Antígona ocorre majoritariamente fora do palco. A versão de Milo Rau encena a violência no palco e reconstitui a chacina em vídeo.
Como a “adaptação literal dos clássicos” está proibida como princípio daquele Manifesto de Gent, Antígona sozinha não seria possível.
Mas o diretor toma a forma dramatúrgica do texto original de Sófocles, com um prólogo, cinco atos (Ismene x Antígona, Antígona x Creonte, Hâimon x Creonte, profecia de Tirésias, Morte de Eurídice e sua maldição sobre Creonte) e um epílogo.
A tragédia de Sófocles termina com a morte de Antígona, Hâimon e Eurídice, e a partida de Creonte para o exílio, deixando Tebas em desgraça. Em Antígona na Amazônia há um sexto ato, diferente.
Uma das principais cenas da peça Antígona na Amazônia é a reencenação do massacre de Eldorado do Carajás, gravada no dia 17 de abril de 2023, quando a chacina completou 27 anos, na Rodovia PA-150 (atual BR-155), na curva do S, com cerca de 300 militantes do MST e outros colaboradores.
Em 1996, uma marcha pacífica com participação de indígenas e membros do MST seguia por essa estrada quando a força repressiva da polícia do Pará interviu com violência, deixando 21 mortos (oficiais), 19 no local, outros dois nos dias seguintes no hospital em decorrência da ação truculenta. Mas existe uma suspeita de outros corpos desaparecidos em decorrência dessa ação.
Todos os anos é realizada uma cerimônia em memória desses mortos. Mas por ordem de alguma autoridade, a representação da manifestação neste ano foi primeiramente proibida, e essa célula vital da montagem quase não aconteceu. Maria Raimunda militante do MST no Pará, responsável pela cultura do movimento e que participa da peça, conseguiu convencer os policiais de que aquele teatro também era uma luta por eles. E a magia do teatro se fez. Tudo é filmado. A chegada do carro da polícia, a conversa de Maria, a reação dos guardas vendo a simulação do desempenho de seus pares 27 anos antes.

Sara De Bosschere e Arne De Tremerie na função de policiais. Foto: Kurt van der Elst-NTGent / Divulgação
A atriz Sara De Bosschere e o ator Arne De Tremerie vestidos com o uniforme atuam como policiais também no palco. As cenas produzidas são fortes, expõem a brutalidade contra os ativistas, mas deixam espaço para mostrar que é uma encenação. Mesmo sabendo que é teatro, a ação é muito chocante e perturbadora.
Essa reconstituição filmada no Pará no dia de aniversário do massacre é duplicada com a encenação de violência também no palco ao vivo, propondo um diálogo pulsante entre a tragédia grega, as memórias das tragédias brasileiras – a de Eldorado dos Carajás e outras, a vivência dos envolvidos no projeto.
Na sala do teatro, os quatro atores que atuam presencialmente dialogam com as imagens gravadas, repetindo gestos, expandindo propostas, interagindo. Eles narram as cenas, falam de si e do episódio focalizado, assumem papeis de Antígona; Creonte; Hêmon, filho de Creonte e noivo de Antígona; o músico-narrador. Fazem ziguezagues na linha do tempo.

Araujo na pele do militante Oziel Alves Pereira, que enfrenta a policia e é assassinado . Foto Divulgação

Arne De Tremerie presencial e no vídeo com Sara De Bosschere. Tecnologia permite um diálogo preciso.
No jogo do teatro direto e o que chega pelas imagens filmadas, os atores descrevem a gênese do projeto, o workshop do MST em 2020 com agricultores, outros profissionais e sobreviventes do massacre. Mas também são exibidas as gravações em aldeias indígenas, reservas florestais assentamentos do MST, em cenas cotidianas, algumas com a presença dos estrangeiros.
Numa cena em que alguns indígenas pintam o corpo e riem e mexem no celular e quase sentimos o cheiro da floresta, o estrangeiro fala fala fala e elas se viram para ele para dizer que não entendem nada do que ele diz. Fazer esse giro em torno da ideia de colonização é sensacional.
De Tremerie em outro momento reflete sobre a experiência de estar numa aldeia amazônica longínqua, ele enquanto homem branco europeu, e que poderia ser tomado por “um complexo de culpa disfarçado de ativismo.” É para continuar pensando.
O dispositivo cênico garante o diálogo entre tantas instâncias. E permite um fluxo na peça que corre entre inglês, português, tucano, flamengo e francês, com legendas em francês e inglês e aparelho para linguagem de sinais.
A sincronização é precisa e produz efeitos admiráveis, que viabilizam que os atores da cena ao vivo conversem com o elenco das gravações. É a tecnologia.
Esses mecanismos e essas escolhas permitem, por exemplo, que Frederico Araujo interpreta um jovem ativista do MST – Oziel Alves Pereira que será espancado até a morte –, Antígona, Polinices um dos filhos de Édipo e, um elemento da repressão e ele mesmo, o ator. Em algum momento ele verbaliza em cena que “no Brasil, quando se é preto, LGBTQIA+ pode-se morrer a qualquer momento, por isso é que eu estou feliz por morrer somente no palco”.

Antigona (Kay Sara), e seu irmão Polinices (Frederico Araujo); Foto: Mortiz Von Dungern / Divulgação
Kay Sara, a atriz ativista indígena – das etnias Tariana e Tukano, de Lauaretê, pequena comunidade do Amazonas, fronteira com a Colômbia – anunciada como a intérprete de Antígona aparece somente nas gravações, nas filmagens, na tela. Ela desistiu do papel-título três dias antes da estreia mundial da peça e voltou para casa no Brasil, no dia 10 de maio.
Nessa sessão inaugural da peça , na Bélgica, os atores explicaram ao público sobre a ausência de Kay Sara, que ela nunca se sentiu confortável na Europa e partiu para ficar com o seu povo. Essa irrupção do real é desconcertante como um drible de craque. Uma ausência que pulsa na cena. É uma recusa ao capitalismo que afirmação de sua subjetividade e identidade. Sua desistência ecoa, vibra cria horizontes para um teatro maior.
Em entrevista ao jornal francês Liberation, Milo Rau explicou as possíveis causas: “Kay Sara não tomou sua decisão por capricho. Ela vinha nos alertando há meses que essa primeira vez no palco seria também sua última aparição diante de um público não-indígena. Subestimamos os constrangimentos da longuíssima turnê de vários anos, que a teria levado a viajar muito para fora da Amazônia, local de sua luta”. O diretor entende que a motivação é duplamente política: Kay Sara não quer ser “fetichizada”.
Kay é uma atriz que já tem um currículo no cinema e nos streamings. Na Antígona na Amazônia, ela participou do processo e das filmagens. Quando o trabalho foi paralisado em 2020, devido à epidemia da Covid, a artista indígena gravou um vídeo com o discurso This madness must stop (Essa loucura tem que acabar), com enorme repercussão entre o público do festival de Viena, onde a gravação foi projetada.
Discurso de Kay Sara por ocasião da abertura do Wiener Festwochen, em 2020,
E como fica essa ausência-presença na cena? Milo Rau engenhosamente incorporou a situação como dinâmica de sua dramaturgia. Araujo substitui Kay no palco. E isso pode criar ruídos ou acréscimos, depende do repertório de quem recebe. Em uma cena, Sara aparece grande na tela e há uma colaboração, complementação ou sobreposição de outro corpo visado pelas atrocidades que vêm de longe.
Uma cena especialmente forte é quando Antígona de Kay descobre que o seu trabalho de enterrar seu irmão, Polinices de Frederico, foi desfeito e ela se encoleriza. A cena se passa na tela, Sara está com seu vestido vermelho. Araujo no palco também chega ao desespero. Ambos gritam e se revoltam contra a injustiça. Nos movimentos de exasperação, o ator jogo terra para o alto e para a plateia. Como eu estava na segunda fila, senti o a fúria da terra lançada.
Outras figuras centrais da tragédia de Sófocles, com Ismene, irmã de Antígona, só aparecem na tela. Ismene é interpretada pela militante negra Gracinha Donato, do Movimento pela Soberania Popular na Mineração (MAM). Célia Maracajá atriz e cineasta, uma das percussoras da produção audiovisual indígena no estado do Pará, e com participações em montagens dos teatros Oficina e Arena, faz Eurídice, mãe de Hêmon e esposa de Creonte.
Liderança histórica no movimento indígena, crítico do sistema capitalista e do eurocentrismo, o filósofo Ailton Krenak faz uma curta participação (e gigante contribuição) em vídeo como o sábio Tirésias, a voz que aconselha e alerta sobre a situação do planeta e avisa a Creonte que sua loucura vai lhe levar à ruína.
“Muitos são os monstros mas nada mais monstruoso que o homem” é cantado no início da peça. Os atores ironizam a inteligência humana que surrupia a natureza e provoca tragédias. Praticamente todo o espetáculo corre com a música poderosa e competente de Pablo Casella em primeiro plano ou de fundo. Essa trilha cria os climas emocionais que as imagens apresentam. E talvez por ser tão exuberante fiquei imaginando as camadas e intenções artísticas para produzir esses estados comoventes e como seria a peça sem essa sustentação musical. Penso que tudo é calculado para envolver o espectador, as situações, climas e encaixes. E envolve.
O quarteto do palco joga com muitos estilos de interpretação, do narrativo à dramatização convulsionada, em Frederico Araujo. Pablo abraça o púbico do narrativo ao musical. Há mais contenção no atuar dos dois da Bélgica. Sara De Bosschere como Creonte é uma escolha que pode gerar incômodos na recepção por ela ser mulher no papel do tirano. Em princípio, não vi problema nessas escolhas. Ela assume um Creonte concentrado e de pouca brutalidade nos gestos. Arne De Tremerie, que está em Grief and beauty (Deuil et beauté / Luto e beleza) de Rau, tem um carisma nas suas atuações. No vídeo, o desempenho ganha com vibração justamente daqueles corpos e o que eles carregam, de história, memória e resistência.
Formado por sobreviventes do Massacre de Eldorado do Carajás, como Laurindo Ferreira da Costa e militantes do MST de todo o Brasil, a exemplo de Tisiane Kilian, de Santa Catarina, o coro desempenha um papel estruturante na montagem. O coro levanta a voz coletiva, da luta em comum, nas imagens, nos cantos.
Mas também sustenta relatos individuais como de Maria Zelzuita Oliveira de Araújo, sobrevivente da matança e que na reconstituição da cena conta em detalhes o que se passou naquele sombrio 17 de abril. É doloroso até ouvir. Ela lembra a altivez do jovem Uziel, de 17 anos, que foi torturado e morto pela polícia; da repórter Mariza Romão, que fazia a cobertura do movimento e “pediu pelo amor de Deus” para “eles” não invadirem a casa que só tinha mulher e criança (a polícia invadiu), e do seu filho de três anos que disse que a família iria morrer, porque estava lutando por terra para morar.
Ou o canto final do coro que diz “que benção, fazer a prece derradeira, dizer adeus a sua maneira, cada grão de terra sobre o corpo é luz”.
Há algo de esperançar no final da peça de Milo Rau. Talvez para marcar que a luta do MST continua. Ela nunca parou. Pablo Casella diz que é a magia do teatro. Ter outro desfecho. Trazer os mortos de volta à vida.
Antigone in the Amazon (Antigona na Amazônia)
Concepção e encenação Milo Rau
Elenco: Frederico Araujo, Pablo Casella, Sara De Bosschere, Arne De Tremerie
e em vídeo Gracinha Donato, Ailton Krenak, Celia Maracajá, Kay Sara, o coro de ativistas e ativistas do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)
Dramaturgia Giacomo Bisordi
Codramaturgia Martha Kiss Perrone
Colaboração à dramaturgia Kaatje De Geest, Douglas Estevam, Carmen Hornbostel
Cenografia Anton Lukas
Figurinos Gabriela Cherubini, Jo De Visscher, Anton Lukas
Iluminação Dennis Diels
Música Pablo Casella, Elia Rediger
Vídeo Moritz von Dungern, Fernando Nogari, Joris Vertenten
Assistenten de encenação Katelijne Laevens assistida por Carolina Bufolin, Zacharoula Kasaraki, Lotte Mellaerts
Tradução para a legenda Panthea (français), Carolina Bufolin (inglês)
Dispositivo de acessibilidade Panthea
Direção técnica Oliver Houttekiet
Direção de palco Marijn Vlaeminck
Técnica Brecht Beuselinck, Dimitri Devos, Stavros Otis Tarlizos
Produção Klaas Lievens, Gabi Gonçalves (Brasil)
De 16 de Junho de 2023 a 24 Julho 2023, no Festival de Avignon
Produção NTGent
Coprodução International Institute of Political Murder (IIPM), Le Festival d’Avignon, Manchester International Festival, La Villette (Paris), Romaeuropa Festival, Le Tandem Scène nationale d’Arras-Douai, Künstlerhaus Mousonturm (Frankfurt), Équinoxe Scène nationale de Châteauroux, Wiener Festwochen (Viena)
Vídeo de divulgação da peça Antigona na Amazônia
Tournée :
22 e 23 de setembro de 2023 – Kaserne Basel (Suíça)
3 e 4 de outubro de 2023 – Teatro Argentina no âmbito do Romaeuropa Festival (Itália)
20 de outubro de 2023 – Teatro Polski (Polonia)
De 25 a 28 de outubro de 2023 – Théâtre des Célestins no âmbito do Festival Sens Interdits (Lyon)
11 e 12 de novembro de 2023 – Culturgest (Portugal)
16 e 17 de novembro de 2023 – Teatro Municipal do Porto (Portugal)
22 e 23 de novembro de 2023 – Centro Cultura Contemporanea Condeduque (Espanha)
28 de novembro de 2023 – Équinoxe Scène nationale de Châteauroux
De 6 a 9 de dezembro de 2023 – La Villette (Paris)
23 e 24 de janeiro de 2024 – Thalia Theater (Alemanha)
30 de janeiro de 2024 – Stadsschouwburg Brugge (Bélgica)
7 de fevereiro de 2024 – De Warand, no âmbito do Stilte Festival ( (Bélgica)
De 22 a 25 de fevereiro de 2024 – Schauspielhaus Zürich (Suíça)
1 e 2 de março de 2024 – De Singel-Rode Zaal (Bélgica)
7, 8 e 9 de março de 2024 – Espoo City Theatre (Finlândia)
De 19 a 22 de junho de 2024 – Théâtre Vidy-Lausanne (Suíça)
Este texto integra o projeto arquipélago de fomento à crítica, com apoio da Corpo Rastreado.