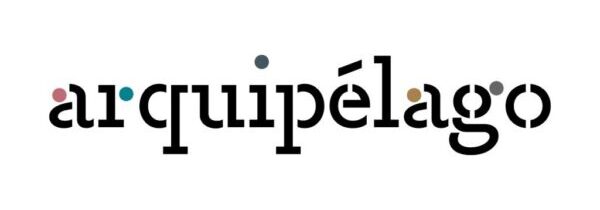Yara de Novaes e Débora Falabella em cena do espetáculo Neste mundo louco, nesta noite brilhante. Foto: Sérgio Silva / Divulgação
 Quando assisti ao espetáculo Neste mundo louco, nesta noite brilhante pela primeira vez em 2019, no Sesc Consolação em São Paulo, vivenciei um episódio de medo e insegurança nas ruas da cidade. Descendo, depois da sessão, pela Rua Dona Veridiana sem estrelas e sem luar, ao lado de uma amiga, fomos surpreendidas por um homem que caminhava na nossa direção e que despertou os piores sentimentos de pavor e vulnerabilidade. O que havia visto no palco com Débora Falabella e Yara de Novaes ainda reverberava intensamente em mim, e os dados alarmantes de violência contra as mulheres acionavam mecanismos estranhos. Minha amiga correu por uma rua lateral, enquanto eu, não sei exatamente porquê, fui em direção ao sujeito. Tudo parecia muito rápido. Minha amiga encontrou uma viatura da polícia que se prontificou a nos deixar perto de casa, depois de nos fichar. Eu me recusei, não querendo estar nas fichas da polícia. Minha amiga ficou possessa comigo e seguimos a pé, com a amizade quase se rompendo ali, ou perdendo um pouco do romantismo.
Quando assisti ao espetáculo Neste mundo louco, nesta noite brilhante pela primeira vez em 2019, no Sesc Consolação em São Paulo, vivenciei um episódio de medo e insegurança nas ruas da cidade. Descendo, depois da sessão, pela Rua Dona Veridiana sem estrelas e sem luar, ao lado de uma amiga, fomos surpreendidas por um homem que caminhava na nossa direção e que despertou os piores sentimentos de pavor e vulnerabilidade. O que havia visto no palco com Débora Falabella e Yara de Novaes ainda reverberava intensamente em mim, e os dados alarmantes de violência contra as mulheres acionavam mecanismos estranhos. Minha amiga correu por uma rua lateral, enquanto eu, não sei exatamente porquê, fui em direção ao sujeito. Tudo parecia muito rápido. Minha amiga encontrou uma viatura da polícia que se prontificou a nos deixar perto de casa, depois de nos fichar. Eu me recusei, não querendo estar nas fichas da polícia. Minha amiga ficou possessa comigo e seguimos a pé, com a amizade quase se rompendo ali, ou perdendo um pouco do romantismo.
Esse incidente ocorreu antes da pandemia de Covid-19, que paralisou o planeta e alimentou a utopia de que a humanidade iria aprender com os milhões de mortes; mas qual o quê! Também foi antes da operação policial realizada em 2022 na Praça Princesa Isabel, onde estava concentrada a Cracolândia naquela época. Após a ação, os usuários de crack se dispersaram para outras ruas da região central de São Paulo, como a Rua Helvétia, a Alameda Dino Bueno e outras dos bairros de Santa Cecília, Campos Elísios, República e adjacências.
A montagem de Neste mundo louco, nesta noite brilhante, agora em cartaz no Teatro Firjan SESI Centro, no Rio de Janeiro, até 18 de agosto, foi muito bem recebida em todas as temporadas e por onde esteve em cartaz. Um casal de amigos da área de produção de orgânicos que passava a semana no Rio de Janeiro, a quem indiquei o espetáculo, retornou entusiasmado: “Gratidão amiga, a peça é estupenda”. Fui buscar aquelas imagens e sensações ainda acesas, que tanto me impactaram.
Muitas produções teatrais têm trabalhado com a temática da violência contra a mulher no palco, e há diversas formas de representar uma questão tão dura, tão real, tão abominável. O que pode fazer a diferença é a linguagem, esse treco que faz amarrações incríveis para mergulhar em assuntos complexos sem querer apresentar soluções mágicas. No caso desta peça, a estética não realista e poética vem associada a um humor ácido.
A violação de uma mulher é uma barbárie que continua sendo praticada, sem que os homens no poder, ou os que se autointitulam de bem, se sintam realmente atravessados como se fosse na própria carne. Nenhum homem sabe de verdade o que é sentir no corpo o irreparável do estupro. Os dados são alarmantes e as taxas crescem.
Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, houve 61.243 casos de estupro no Brasil em 2023, um aumento de 9,2% em relação a 2022. Isso significa que, em média, uma mulher é estuprada no país a cada 9 minutos. Nove minutos; repito! Além disso, o Brasil registrou 1.427 casos de feminicídio em 2023, um aumento de 8,2% em relação ao ano anterior. Esses números chocantes evidenciam a urgência de se discutir e enfrentar a violência contra a mulher em todas as suas formas.
As raízes dessa violência se entrelaçam com as estruturas patriarcais que permeiam nossa sociedade, perpetuando a dominação masculina. O patriarcado é um emaranhado complexo de relações de poder que se infiltra em todas as esferas da vida, desde as interações mais íntimas até as instituições que moldam nossa existência compartilhada.
Essa lógica perversa de dominação não se limita a aspectos isolados, mas se alastra, contaminando a política, a economia, a cultura e até mesmo nossa psique. É ela que sustenta a cultura do estupro, que normaliza a violência sexual e culpa a vítima por sua própria violação. É ela que mantém a violência de gênero como uma sombra constante, um fantasma que assombra a vida de milhões de mulheres.
O patriarcado se adapta e se reinventa, encontrando novas formas de se manifestar em um mundo em constante mudança. Seja através de microagressões cotidianas, da desigualdade salarial, da sub-representação feminina nos espaços de poder ou da violência física e sexual, o patriarcado se faz presente, limitando e oprimindo as mulheres.
Um dos pontos de inspiração da dramaturgia da montagem foi um episódio real ocorrido no Piauí em 2015, quando quatro meninas foram estupradas e jogadas de um abismo. No entanto, a peça não se limita a esse evento trágico. Muitas linhas se cruzam e muitas histórias se acumulam, dialogando em camadas na trama tecida por Silvia Gomez.
A dramaturga – autora de peças como O Céu Cinco Minutos Antes da Tempestade, O Amor e Outros Estranhos Rumores, Marte, Você Está aí? e Mantenha Fora do Alcance do Bebê –, constrói uma narrativa com palavras afiadas que penetram nas camadas mais subterrâneas da sociedade, expondo as entranhas de um sistema que normaliza o inaceitável.
Gomez encontra no delírio a chave para destrancar as portas da perplexidade e do horror. Sua escrita carrega uma qualidade cirúrgica, trabalhada com precisão para expor as estruturas mais profundas e as vísceras de uma sociedade que normalizou a violência a tal ponto que chegou à indiferença, corroendo nossa humanidade.
Na encenação de Gabriel Fontes Paiva, o tema delicado e difícil do estupro coletivo é tratado com sensibilidade. Débora Falabella interpreta a garota violentada que, em meio ao turbilhão do trauma, busca desesperadamente um fio de sentido para não sucumbir. Yara de Novaes, como a vigia testemunha do quilômetro 23, cenário do crime, encarna a impotência e o atordoamento diante da barbárie, oscilando entre a empatia e a descrença. Juntas, elas traçam uma cumplicidade cênica desconcertante, que anos de convívio artístico no teatro de grupo proporciona.
Trago algumas reflexões sobre performance, trauma e representação. No livro The Body in Pain: The Making and Unmaking of the World (1985), Elaine Scarry explora como a dor física, especialmente a dor extrema como a da tortura, resiste à representação linguística. Scarry argumenta que a dor destrói a linguagem convencional, tornando-a fragmentária e incoerente.
Outro autor que aborda questões semelhantes é o teórico de performance e trauma Patrick Duggan. Na publicação Trauma-Tragedy: Symptoms of Contemporary Performance (2012), Duggan investiga como as performances contemporâneas lidam com o trauma. Ele sugere que a performance pode servir como um meio de “testemunhar” o trauma, não através da representação direta, mas através da evocação de seus efeitos e sintomas, muitas vezes através de meios não verbais como o corpo, o som e a imagem, criando “efeitos de presença” do trauma.
Já a teórica da performance Diana Taylor, em seu livro The Archive and the Repertoire: Performing Cultural Memory in the Americas (2003), investe na relação entre performance e memória traumática. Taylor sugere que a performance, como um “repertório” de memória corporificada, pode transmitir experiências traumáticas de maneiras que escapam ao discurso verbal e à documentação escrita.

A peça é uma montagem do Grupo 3 de Teatro com direção de Gabriel Fontes Paiva. Foto: João Caldas Fº
Neste mundo louco, nesta noite brilhante tem a capacidade de “testemunhar o “intestemunhável”, ou seja, tocar em experiências traumáticas que desafiam a representação.
O cenário de André Cortez funciona como uma metáfora visual para o não-lugar da violência, esse espaço de suspensão onde a realidade se desintegra. É um território onírico, onde os pesadelos ganham forma e a linha entre o real e o surreal se dissolve. As projeções de vídeo são como fragmentos de memória, ecos deformados de um trauma que se recusa a ser esquecido. Elas sugerem a natureza intrusiva e repetitiva das memórias traumáticas, que voltam incessantemente, muitas vezes de forma despedaçada. A iluminação cria uma atmosfera de claustrofobia, como se o palco fosse a própria mente aprisionada no labirinto do trauma.
A trilha sonora, composta por Lucas Santana e Fábio Pinczowisk, adiciona mais uma camada à narrativa. Durante as apresentações no Sesc Consolação, a banda boliviana Las Majas a executava ao vivo, criando uma atmosfera única. Nessa temporada no Teatro Firjan SESI Centro, a trilha é gravada, mantendo sua força e impacto.
O Grupo 3 de Teatro – que já montou espetáculos como Contrações (2013), com direção de Grace Passô, e Love, Love, Love (2017), dirigido por Eric Lenate -, utiliza a poética do desconforto como estratégia estética. Essa poética visa desestabilizar o público, tirá-lo da zona de conforto das certezas e confrontá-lo com o incômodo, o mal-estar. É uma linguagem que se recusa a ser complacente, que escolhe a vertigem do estranhamento como forma de provocar reflexão.
Ao abraçar o desconforto, o Grupo 3 de Teatro nos convida a encarar as sombras dentro de nós mesmos, a questionar as estruturas que sustentam a violência e a reconhecer nossa própria cumplicidade silenciosa.
É difícil transmitir a intensidade e a complexidade das experiências encarnadas pelas atrizes. Ao longo da peça, as atrizes Débora Falabella e Yara de Novaes utilizam uma linguagem corporal descontínua para evocar os estados internos da mulher violentada e da testemunha solidária. Os movimentos convulsivos, os gritos sufocados, os silêncios carregados – todos esses elementos evocam o impacto da violência.
Ao mesmo tempo, a estrutura não linear e onírica da cena, com suas transições abruptas e justaposições insólitas, reflete a natureza descontínua e desorientadora da memória traumática. Não há uma narrativa clara de causa e efeito, nenhuma resolução fácil – em vez disso, somos imersos em um espaço psicológico onde o tempo é distorcido, as identidades são fluidas e as fronteiras entre o real e o imaginado são borradas.
Esse reconhecimento, esse ato de “testemunho secundário”, implica o público. Ao sermos confrontados com a realidade crua da violência e suas consequências devastadoras, não podemos mais manter uma distância segura. Somos chamados a sentir, a nos envolver em um nível profundamente político.
Assim, Neste mundo louco, nesta noite brilhante se mostra como um ato de resistência contra o silêncio e a invisibilidade que muitas vezes cercam a violência sexual, lembrando que essa ferida coletiva requer um engajamento coletivo.
Ficha técnica:
Elenco: Débora Falabella e Yara de Novaes
Texto: Silvia Gomez
Direção: Gabriel Fontes Paiva
Cenografia: André Cortez
Vídeo-cenário: Luiz Duva
Figurino: Fabio Namatame
Iluminação: Gabriel Fontes Paiva e André Prado
Trilha sonora original: Lucas Santtana e Fábio Pinczowisk
Serviço:
Neste mundo louco, nesta noite brilhante
Quando: Quinta e Sexta às 19h, Sábado e Domingo às 18h. De 28 de Julho a 18 de Agosto
Onde: Teatro Firjan SESI Centro. – Avenida Graça Aranha, 1, Rio de Janeiro – Rio de Janeiro
Quanto: Ingressos entre R$ 20,00 e R$ 40,00
Este texto integra o projeto arquipélago de fomento à crítica, com apoio da Corpo Rastreado.